Orbital (Samantha Harvey, 2025)
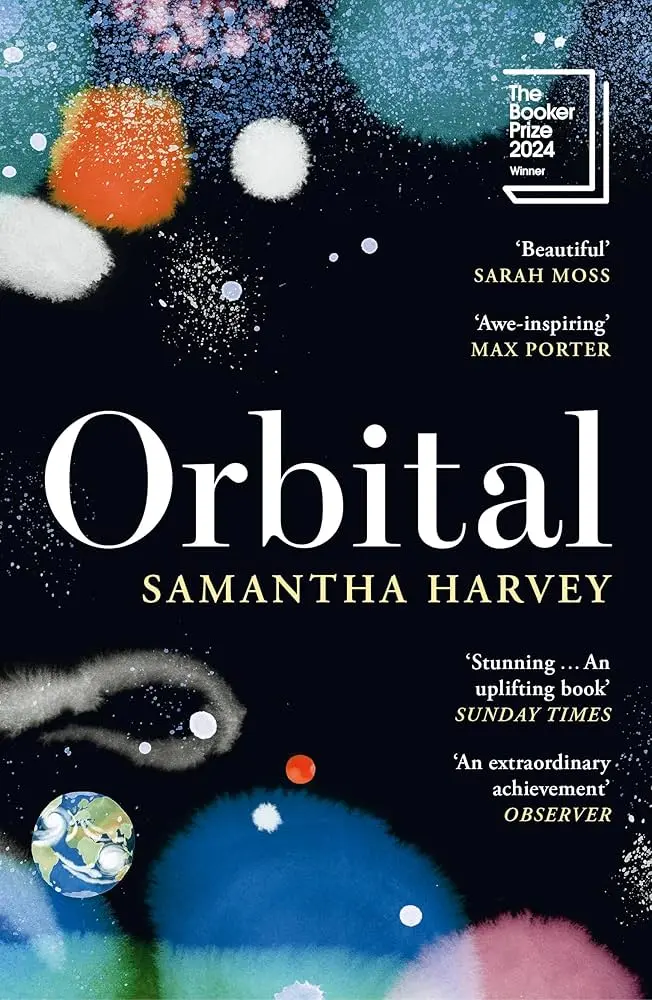
As descrições são o coração do livro. A autora transforma observações espaciais em prosa lírica seguindo uma estrutura contada através de órbitas que somente um livro como esse poderia fazer. É um livro de diferentes perspectivas, tal qual estivesse olhando para o objeto de estudo (a Terra, a humanidade) sob diferentes ângulos, como se estivesse no espaço, em órbita. Nenhuma reflexão vem sozinha, nenhuma carrega uma afirmação única com ponto final.
Ele questiona se somos "folhas sopradas pelo vento" ou agentes de mudança. Se explorar o espaço é curiosidade ou ingratidão. Uma resposta: provavelmente somos apenas "algumas pedras lascadas à frente" dos outros animais, fazendo migração disfarçada de conquista.
Gostei da transição do tema solidão para o amor através da arte. O quadro "Las meninas" retorna outras vezes com novas perspectivas de leitura, como todos os temas no livro. Achei memorável os ratos voadores e as listas da Chie (como se fossem a corda que a amarrasse de volta a terra).
Os temas que mais ressoaram em mim: a política moldando a paisagem terrestre, tão visível quanto a gravidade; a companhia como consolação pela nossa banalidade cósmica; a Terra personificada e inseparável de suas correntes de ar, “assim como um rosto não está à parte da expressão que ele faz”; a fotografia de Michael Collins como paradoxo da presença/ausência humana; a solidão cósmica transformada em música; e os maiores clichês astronômicos, que sempre fascinam: as sondas Voyager carregando sons da Terra pela eternidade e o calendário cósmico reduzindo a história humana a "uma breve luzinha que pisca e depois se apaga".
Senti certo descaso com a América do Sul. O Brasil aparece tarde, preguiçoso, entediante. A Amazônia não passa de "bolhas de queimaduras", tanto potencial descartado. Como podem falar da conexão Ásia-Australásia ou Rússia-Alasca, mas ignorar Brasil-África?
- Comecei a leitura desse livro hypado do ano passado (vi ele repetidas vezes nas listas de conhecidos leitores) para a o clube de leitura do Manual do Usuário:
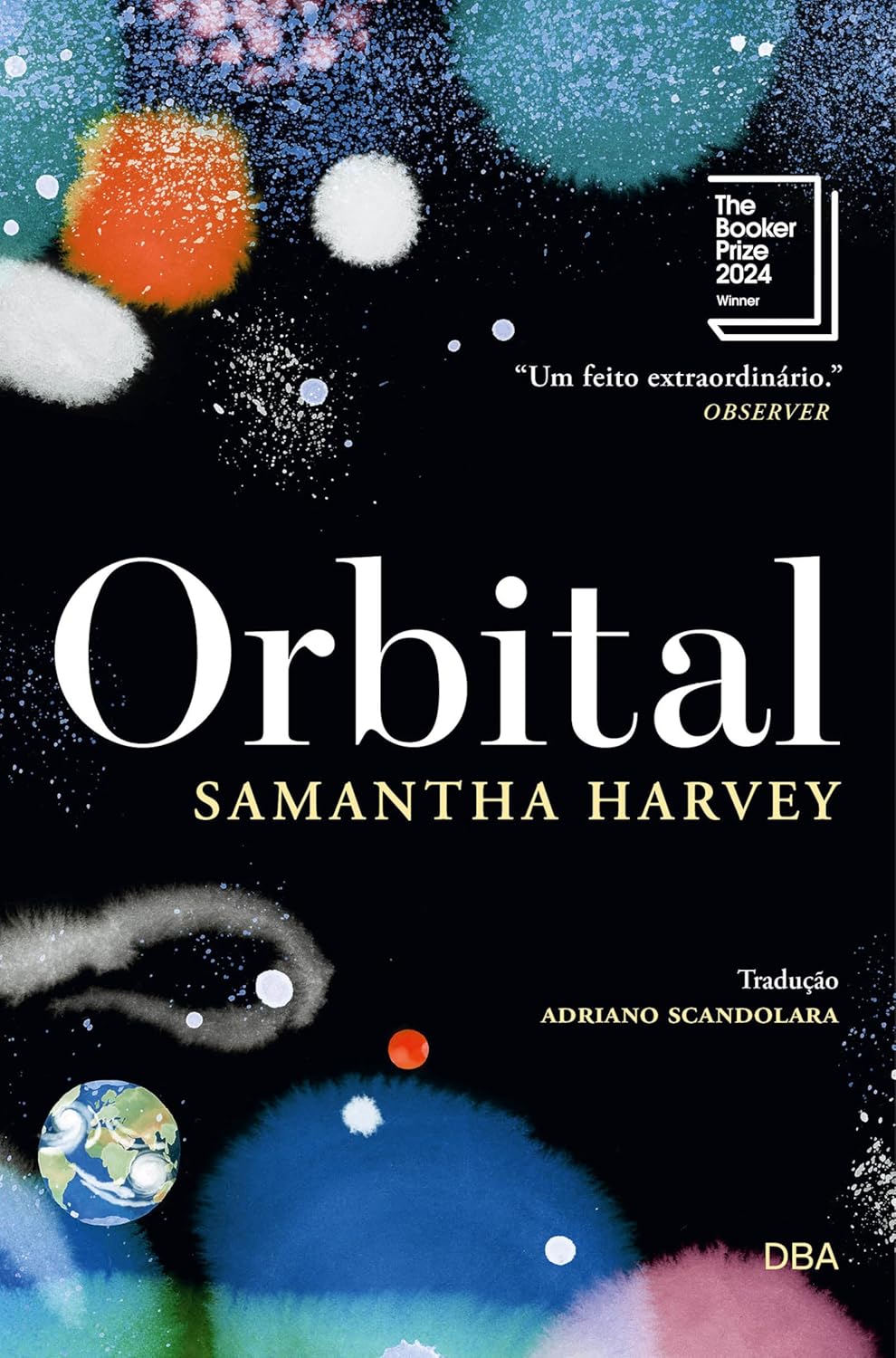
Páginas lidas por dia
Destaques e Anotações
- Achei tão lindo a transição do tema solidão para o amor usando uma análise de arte para isso. Está logo no início do livro.
- Aconteceu uma coisa: me dei conta de estar lendo o livro com a tradução do português de Portugal, não Brasil. As palavras com letras esquisitas, agora fazem mais sentido. Prontamente, troquei pela versão brasileira. Parece um pecado trocar uma tradução brasileira por uma portuguesa, certo? Bom, eu só não esperava ter a impressão de estar lendo um texto menos rebuscado, que um pouco do que eu achava de lindo no estilo da escrita anterior se dissipara. O horror! O horror que eu senti! Estou realmente pensando isso? Isso é lá coisa para um latino-americano pensar? Agora, não consigo continuar a leitura traduzida em português, não importa qual. Preciso consumir da fonte e analisar a escrita em inglês, depois comparar com as duas traduções. Talvez eu escolha uma a partir disso, ou continue lendo em inglês, que é o que parece mais sensato a essa altura.
É uma pintura dentro de uma pintura, como explicou a professora — olhem de perto. Olhem aqui. Velázquez, o artista, está na pintura, com seu cavalete, pintando uma pintura, e o que ele está pintando são o rei e a rainha, mas os dois estão de fora da pintura, onde estamos nós, olhando de fora para dentro, e o único modo de sabermos que os dois estão ali é porque conseguimos ver o reflexo deles no espelho diretamente à nossa frente. O que o rei e a rainha estão vendo é o que nós estamos vendo — a filha e suas damas de companhia, que é de onde vem o título — Las meninas, “as damas de companhia”. Então, quais os verdadeiros modelos da pintura — o rei e a rainha (que estão sendo pintados e cujos rostos brancos refletidos, embora sejam pequenos, são vistos ao centro, no fundo da cena), a filha deles (que é a estrela ao centro, tão radiante e loira na escuridão), suas damas (e anões e chaperones e cachorro) de companhia, o homem furtivo flagrado atravessando o limiar ao fundo e que parece estar trazendo uma mensagem, Velázquez (cuja presença como pintor é declarada pelo fato de estar na pintura, com seu cavalete, pintando o que é um retrato do rei e da rainha, mas que também poderia ser o próprio Las Meninas), ou será que somos nós, os espectadores, que ocupamos a mesma posição que o rei e a rainha, que estão olhando de fora para dentro e sendo olhados por Velázquez e pela princesa infanta ao mesmo tempo e, no reflexo, pelo rei e pela rainha? Ou será que o tema é a arte em si (que é um conjunto de ilusões e truques e artifícios dentro da vida) ou a vida em si (que é um conjunto de ilusões e truques e artifícios dentro de uma consciência que está tentando compreender a vida por meio de percepções e sonhos e arte)?

A Terra, daqui, é como o céu. Um fluxo de cores. Um estouro de cores esperançosas. Quando estamos no planeta, olhamos para cima e pensamos que o Céu fica em outro lugar, mas eis o que os astronautas e cosmonautas pensam às vezes: talvez todos nós que nascemos nela já tenhamos morrido e estejamos no além. Se, quando morremos, vamos a algum lugar improvável, difícil de acreditar, então aquele globo vítreo e distante, com sua luz linda e solitária, poderia muito bem ser ele.
Sentem o espaço tentando livrá-los da noção dos dias. O espaço diz: o que é um dia? Eles insistem que são vinte e quatro horas e as equipes de solo não param de repetir isso, mas o espaço pega essas vinte e quatro horas e enfia dezesseis dias e noites de troco. Agarram-se ao seu relógio de vinte e quatro horas, porque é tudo que o corpinho deles, débil e atado ao tempo, conhece — sono, intestinos e tudo que está preso neles. No entanto, a mente se liberta já na primeira semana. Está numa zona aberrante desprovida de dias, surfando o horizonte disparado da Terra. O dia chega e depois eles veem a noite se aproximar como a sombra de uma nuvem correndo sobre um trigal. Quarenta e cinco minutos depois vem o dia outra vez, pisoteando o Pacífico. Nada é o que pensavam que fosse.
Já conversaram antes sobre uma sensação que volta e meia os atinge, uma sensação de fusão. Eles não são exatamente distintos nem entre si nem em relação à nave.
aqui estão todos equalizados pelo poder delicado da espaçonave.
São uma coreografia de movimentos e funções no corpo da nave, enquanto ela mesma encena sua coreografia perfeita do planeta.
Ocorre-lhes um pensamento surpreendente às vezes: estão encapsulados, um submarino que se move sozinho pelas profundezas do vácuo, e vão se sentir menos seguros quando saírem. Vão reaparecer sobre a superfície da Terra feito estranhos, em certo sentido. Alienígenas conhecendo um novo e desvairado mundo.
Depois acompanhe as estações ao longo de vários anos, e o homem que se esforça para vestir as calças no seu corpo rangente e ressequido e se pergunta como parece que ele envelheceu tão mais do que a mulher, que ainda segue atlética e ativa, andando aos pulinhos. Ele não consegue mais juntar muita saliva e ninguém lhe disse que a terceira idade seria tão seca, a pele, a boca e os olhos — o nariz sem mais nada para assoar (e ainda assim ele segue assoando, o tempo inteiro). Que coisa incrivelmente despreparada é esse seu corpo, para ressecar assim. Como uma folha, seria possível pensar, mas uma folha seca cai do galho, e ele não está pronto para partir. Levanta-se ao amanhecer e olha para o dique onde os sapos-boi coaxam, e crava ali os dedos dos pés.
Depois de seis meses no espaço, eles terão envelhecido, em termos técnicos, 0,007 segundos a menos do que alguém na Terra. Mas em outros aspectos terão envelhecido cinco ou dez anos a mais, e isso apenas no que diz respeito ao que está dentro da sua compreensão atual. Sabem que a visão está passível de enfraquecer, e os ossos de se deteriorarem. Mesmo com tanto exercício, os músculos ainda atrofiam. O sangue vai coagular e o cérebro dançará no seu fluido. A coluna se alonga, as células-T sofrem para se reproduzir, formam-se pedras nos rins. Enquanto estão aqui, a comida não tem lá muito gosto. Os seios nasais são um terror. A propriocepção falha — é difícil saber onde estão suas partes do corpo sem olhar. Eles se tornam sacos deformados de fluidos, um excesso na parte superior, uma falta embaixo. Os fluidos se acumulam atrás dos olhos e comprimem o nervo óptico. O sono se rebela. A microbiota do intestino desenvolve novas bactérias. O risco de câncer aumenta.
Talvez a civilização humana seja como uma vida individual — crescemos e saímos da realeza da infância para a suprema normalidade; descobrimos como somos nada-de-especial e num arroubo de inocência ficamos bem contentes — se não somos especiais, então talvez não estejamos sozinhos. Se há sabe-se lá quantos sistemas solares iguais ao nosso, com sabe-se lá quantos planetas, um daqueles planetas com certeza será habitado, e a companhia é a consolação pela nossa banalidade. E assim, por solidão, curiosidade e esperança, a humanidade olha para fora e pensa que talvez eles estejam em Marte, esses outros, e mandam sondas. Mas Marte parece um deserto de rachaduras e crateras, então talvez nesse caso estejam num sistema solar vizinho ou na galáxia vizinha ou na outra depois dela.
Enviamos sondas Voyager pelo espaço interestelar num espasmo de esperança, magnânimo e sonhador. Duas cápsulas da Terra contendo imagens e canções, só esperando para serem encontradas em — quem sabe — dezenas ou centenas de milhares de anos, se tudo der certo. Do contrário, milhões ou bilhões, ou nunca. Enquanto isso, começamos a auscultar. Vasculhamos os confins atrás de ondas de rádio. Nada responde. Ficamos décadas e décadas vasculhando. Nada responde. Fizemos projeções esperançosas e temerosas por meio de livros, filmes e afins, imaginando como ela poderia ser, essa forma de vida alienígena, quando ela enfim fizer contato. Mas o contato não vem, e suspeitamos que na verdade jamais virá. Sequer há algo lá fora, pensamos. Por que se dar ao trabalho de esperar quando não há nada lá? E agora talvez a humanidade esteja no estágio final quebra-tudo da adolescência, de autodestruição e niilismo, porque não pedimos para nascer, não pedimos para herdar uma Terra para cuidarmos, e não pedimos para estar tão completamente, injustamente, obscuramente sozinhos.
Na fotografia tirada por Collins está o módulo lunar que leva Armstrong e Aldrin, logo atrás deles na Lua e, a uns quatrocentos mil quilômetros além disso, a Terra, uma meia esfera azul pendurada em puro breu que sustenta a humanidade. Michael Collins é o único ser humano que não está na fotografia, dizem, e isso sempre foi uma fonte de profundo encantamento. Absolutamente todas as outras pessoas que existem neste momento, até onde a humanidade tem ciência, estão contidas naquela imagem; apenas uma delas não está, aquela que tirou a foto.
Anton nunca compreendeu essa afirmação de verdade, ou pelo menos seu encanto. E todas as pessoas do outro lado da Terra que a câmera não captou? E todo mundo no hemisfério Sul, onde é noite, engolidas na escuridão do espaço? Elas estão na foto? Na verdade, não há ninguém na foto, ninguém que possa ser visto. Todos são invisíveis — Armstrong e Aldrin dentro do módulo lunar, a humanidade invisível num planeta que poderia facilmente, visto assim, ser desabitado. A prova mais forte, mais dedutível da existência de vida nessa fotografia é o próprio fotógrafo — o olho no visor ocular, a pressão quente do dedo sobre o botão do obturador. Nesse sentido, a coisa mais encantadora na foto de Collins é o fato de que, no momento em que a foto é tirada, ele é mesmo a única presença humana contida nela.
Nell às vezes quer perguntar a Shaun como é ser astronauta e acreditar em Deus, ainda mais num Deus criacionista, mas ela sabe qual seria a resposta. Ele perguntaria como é ser astronauta e não acreditar em Deus. Ficariam sem resposta. Ela apontaria para as janelas a bombordo e estibordo, onde a escuridão é infinita e feroz. Onde sistemas solares e galáxias se dissipam com violência. Onde o campo de visão é tão profundo e multidimensional que quase dá para ver a curva do espaço-tempo. Olhe, ela diria. O que criou isso aí, senão uma força lançadora linda e negligente? E Shaun apontaria para as janelas a bombordo e estibordo onde a escuridão é infinita e feroz, para os mesmos exatos sistemas solares e galáxias dissipados com violência e para o mesmo campo de visão profundo e multidimensional curvado pelo espaço-tempo e diria: o que criou isso aí, senão uma força lançadora linda e diligente?
Ela se lembra de caminhar no bosque com o pai num dia de inverno quando tinha nove ou dez anos, e havia uma árvore enorme pela qual eles quase passaram reto até perceberem que era uma criação artificial, uma escultura feita de dezenas de milhares de gravetos colados juntos, entretecidos para darem a impressão de nós na madeira, casca de árvore, troncos e galhos. Não dava para distingui-la das outras árvores desfolhadas pelo inverno, exceto pelo fato de que, depois que você se dá conta de que é uma obra de arte, ela passa a pulsar com uma energia, uma atmosfera diferente. Essa é a sensação que ela tem do que separa o seu universo do de Shaun — uma árvore feita pela mão da natureza e uma árvore feita pela mão de um artista. Quase não há diferença, mas também é a mais profunda diferença do mundo.
Embora estas palavras — arrastar, tragar, puxar — descrevam a força do movimento, mas não sua graciosidade, não sua… o quê? Sua sincronicidade / fluidez / harmonia. Nenhuma dessas é bem a palavra. Não é tanto que a Terra seja uma coisa e o clima outra, mas sim a mesma coisa. A Terra é suas correntes de ar, as correntes de ar são a Terra, assim como um rosto não está à parte da expressão que ele faz.
isso que é o mundo, um parquinho para os homens, um laboratório para os homens, nem arrisque competir, porque qualquer tentativa de competição vai culminar em sentimentos de desalento, inferioridade e derrota, por que participar de uma corrida impossível de ganhar, por que se envolver num caso perdido — saiba então, por favor, minha filha, que você não é inferior e guarde isso em destaque no seu coração, viva sua vida inconsequente como der, com uma dignidade do ser, pode fazer isso por mim?
Tudo não passa de imaginação e projeções, e todas poderiam ser equivocadas.
Nas câmeras internas da nave, o controle da missão observa a tripulação ignorar descaradamente esses éditos, e não faria sentido se fosse de outro jeito. Astronautas e cosmonautas são que nem gatos, concluem. Intrépidos, descolados e impossíveis de pastorear.
Morando em cavernas, submarinos e desertos a fim de testarmos nossa resiliência. Se tivermos algo em comum, uma única coisa que seja, é nossa aceitação de que, para chegar até aqui, até essa nave mítica, nós precisamos não pertencer a lugar nenhum e pertencer a todos os lugares.
De que valem jogos diplomáticos numa espaçonave, presa na sua órbita de delicada indiferença?
E nós? Somos um só. Por ora, pelo menos, somos um só. Tudo que temos aqui é apenas o que reusamos e compartilhamos. Não podemos nos dividir, essa é a verdade. E não vamos, porque não podemos. Bebemos, cada um, a urina reciclada do outro. Respiramos, cada um, o ar reciclado do outro.
A mão da política é tão visível de lá da perspectiva deles que sequer conseguem entender como foi que ela escapou ao olhar antes disso. É algo que se manifesta claramente em todos os detalhes da paisagem: assim como a força escultora da gravidade moldou um planeta esférico e foi puxando e empurrando as marés que moldam os litorais, também a política esculpiu e moldou e deixou suas evidências em toda parte.
Eles passam a enxergar a política do querer. A política do crescimento e da conquista, um bilhão de extrapolações da necessidade de mais coisas é o que começam a ver quando olham para baixo. Sequer precisam olhar para baixo, já que eles também são parte dessas extrapolações, mais do que qualquer outra pessoa — eles no seu foguete, cujos propulsores, durante o lançamento, queimam o combustível de um milhão de carros.
Ela e o marido trocam fotografias quase todos os dias; às vezes a vista dele do lago e da montanha e um pôr do sol sangrento, às vezes um close de uma estalactite de gelo ou da orelha de uma ovelha ou flor ou portão, às vezes o mar ou o reflexo das nuvens na areia molhada, uma vez o céu noturno e um círculo traçado no ponto por onde a nave dela estava passando — não aparecia visível na foto, mas havia a legenda: Você está esteve aqui. Quando essa foto chegar, ele escreveu na mensagem, você já vai ter dado a volta ao mundo mais umas oito ou nove vezes. Você tem que admitir que é difícil, ele disse, sua esposa voando acima de você a uns vinte e sete mil quilômetros por hora. Nunca se sabe onde ela está, onde encontrá-la.
Algum dia, dentro dos próximos quinhentos bilhões de anos, enquanto as sondas completam um circuito inteiro pela Via Láctea, talvez elas esbarrem em vida inteligente. Dentro de quarenta mil anos, mais ou menos, quando a navegação das duas sondas vier a aproximá-las o suficiente de um sistema planetário, talvez, apenas talvez um desses planetas será o lar de alguma forma de vida que espiará a sonda com seja lá o que nela se passe por olhos, firmando o telescópio e buscando a velha e abandonada sonda, já sem combustível, com o que nela se passe por curiosidade, abaixando a agulha (contida na sonda) até o disco com o que nela se passem por dedos, libertando o dadadá-dáa da Quinta de Beethoven. O som sairá como um trovão numa fronteira diferente. A música humana permeará os confins externos da Via Láctea. Haverá Chuck Berry e Bach, haverá Stravinsky e Blind Willie Johnson, e o didjeridu, o violino, a guitarra de blues e a shakuhachi. O canto das baleias chegará até a constelação de Ursa Maior. Talvez algum ser da estrela ac+793888 escute a gravação de 1970 de uma ovelha balindo, risos, passos e o estalo suave de um beijo. Talvez escutem o avanço de um trator e a voz de uma criança.
Quando se passa uma semana enterrado numa rede de cavernas com quatro outras pessoas e pouquíssima comida, rastejando por horas a fio em fissuras pouco maiores do que as dimensões do seu próprio corpo para ver o quanto se aguenta de confinamento, testemunhando as pessoas mais fortes que há terem ataques de pânico, você aprende a não pensar para além da próxima meia hora, e muito menos em algo que se possa chamar de o futuro. Ao entrar no seu traje espacial e tentar se habituar à dificuldade de movimento, ao modo como ele raspa a pele dolorosamente, às coceiras incoçáveis que podem persistir durante horas, à desconexão, à sensação de estar enterrado dentro de alguma coisa da qual não dá para sair, de estar dentro de um caixão, então só é possível pensar na próxima respiração e ela precisa ser superficial, para não gastar oxigênio demais, mas não superficial demais, e até mesmo a próxima respiração não é preocupação sua, apenas a do momento. Ao ver a Lua ou os tons rosados de Marte, não se pensa no futuro da humanidade, mas apenas, se tanto, na probabilidade logística de que você ou qualquer pessoa que conheça terá a sorte de ir para lá. Você pensa na sua própria humanidade egoísta, obsessiva e descarada, você mesmo abrindo caminho à base da cotovelada entre milhares de outros para chegar à plataforma de lançamento, pois o que mais lhe daria uma vantagem sobre os outros, além da propulsão de uma autodeterminação e crença que consomem todas as outras coisas no caminho?
Pietro fica encarando a pintura por um tempo e depois mais um pouco, então responde, É o cachorro.
Como é?
A resposta da pergunta da sua esposa, o tema da pintura é o cachorro.
Ele olha então — quando Pietro entrega de volta o cartão-postal e estende a mão para apertar a cúpula óssea do ombro de Shaun antes de ir embora num mergulho — o cachorro em primeiro plano. Nunca nem olhou para ele duas vezes, mas agora é impossível olhar para outra coisa. O cachorro está de olho fechado. Numa pintura em que tudo gira em torno do ato de ver e olhar, é a única coisa viva em cena que não está olhando para lugar nenhum, para ninguém nem nada. Shaun vê agora o quanto ele é grande e bonito, como se destaca — e embora esteja pegando no sono, não há nada de decadente ou estúpido nessa pose. Suas patas estão estendidas; sua cabeça, ereta e orgulhosa.
É impossível que seja uma coincidência, ele pensa, numa cena tão orquestrada e simbólica, e de repente lhe parece que Pietro tem razão, que ele compreendeu a pintura ou que seu comentário fez Shaun enxergar uma pintura totalmente diferente da que ele via até então. Agora não vê pintor, princesa, anão ou monarca, vê o retrato de um cachorro. Um animal cercado pela estranheza dos humanos, com todas as suas empunhaduras e babados e sedas e poses, os espelhos, ângulos e perspectivas; todos os modos pelos quais tentamos não ser animais e o quanto é cômico olhar para isso agora. E como o cachorro ali é a única coisa na pintura que não tem nada de levemente risível, que não está preso numa matriz de vaidades. A única coisa na pintura que daria para chamar de vagamente livre.
Escolha uma única criatura sobre esta terra e sua história será a história da Terra, ele pensa de repente. Ela poderá lhe contar tudo, aquela única criatura. A história completa do mundo, o provável futuro do mundo.
Eles lá dentro dão saltos mortais para a frente e para trás, porque às vezes é a única coisa a se fazer quando se está caindo sem parar ao redor da Terra.
E essa é apenas a cena local; uma confusãozinha, um minidrama. Nós nos flagramos num universo de derivas e colisões, as ondulações longas e lentas do primeiro Big Bang enquanto o cosmos se rompe; as galáxias mais próximas se apertam, depois as que restam se espalham e vão fugindo, uma por uma, até cada uma delas estar sozinha e só existir o espaço, uma expansão que se expande em si, um vazio que gera a si mesmo, e no calendário cósmico, tal como existiria então, tudo que os humanos foram e fizeram um dia será uma breve luzinha que pisca e depois se apaga outra vez num único dia no meio do ano, sem deixar nenhuma lembrança.
Eis que finalmente aparece o Brasil, no penúltimo capítulo:
E na floresta mais densa onde não se veem cidades, há mil quilômetros de uma colcha de retalhos de pontos alaranjados, onde a floresta tropical arde. Ela queima até a beirada dos Andes. Queima, atravessando o leste do Brasil descendo até o Paraguai e a Argentina, onde a órbita atravessa um continente em chamas.
Olhando de fora, é possível vê-los contornar uma trilha artificial, há muito tempo intocada, entre duas esferas rodopiantes. É possível ver que, longe de ser uma aventura solitária, eles navegam por um enxame de satélites, uma nuvem de mosquinhas fervilhando de coisas em órbita, duzentos milhões de objetos arremessados. Satélites em operação, ex-satélites estourados em pedacinhos, satélites naturais, lascas de tinta, substâncias para refrigerar motores, congeladas, os estágios superiores dos foguetes, pedaços da Sputnik 1, da Iridium 33 e da Kosmos 2251, partículas emitidas por foguetes, um kit de ferramentas perdido, uma câmera extraviada, um par de pinças que caiu e um par de luvas. Duzentos milhões de coisas orbitando a quarenta mil quilômetros por hora, desgastando o verniz do espaço.
E a Terra, uma complexa orquestra de sons, o ensaio de uma banda desafinada de serras e instrumentos de sopro, uma distorção espacial de motores a todo vapor, uma batalha na velocidade da luz entre tribos galácticas, um ricochete de trinados durante a manhã úmida de uma floresta tropical, os compassos iniciais de um transe eletrônico e, embaixo de tudo isso, um ruído a zumbir, o ruído reunido numa garganta oca. Uma harmonia desastrada que toma forma. O som de vozes muito distantes se reunindo num coral de missa, sustentando uma nota angelical que se expande em meio à estática. Era de se pensar que ela fosse começar a cantar de repente, assim como emerge o som de um coral, repleto de intenção, e então essa conta de vidro polido que é o planeta soa, momentaneamente, tão doce. Sua luz é um coral. Sua luz é a sinfonia de um trilhão de coisas que se congregam e se unificam por breves instantes antes de recaírem de volta no retintim e no tombar embaralhado de flautas de estática galáctica no transe tropical de um selvagem e cadenciado mundo.
Samantha Harvey (1975) é uma escritora inglesa. Formada em Filosofia e frequentemente comparada a Virginia Woolf por sua escrita lírica e meditativa, é autora dos romances The Wilderness (2009), finalista do Booker Prize, All is song (2011), Dear Thief (2014), The Western Wind (2018) e Orbital (DBA Literatura, 2025), vencedor do Booker Prize 2024, além do livro de não ficção The Shapeless Unease: A Year of Not Sleeping (2020).
Título: Orbital
Autora: Samantha Harvey
Tradutor: Adriano Scandolara
Editora: DBA
Páginas: 192
Data da Publicação Original: novembro de 2023 (Jonathan Cape, Reino Unido)
Data da Publicação no Brasil: 2025
ISBN-13: 9786558261056
ISBN-10: 6558261052
Sem spam, sem compartilhar com terceiros. Só eu e vc <3

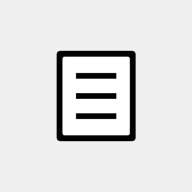



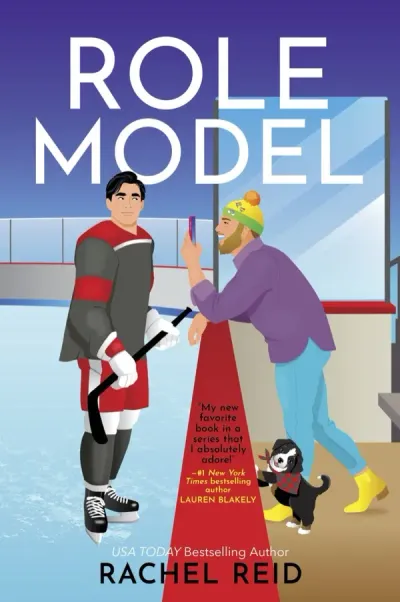


Comentários